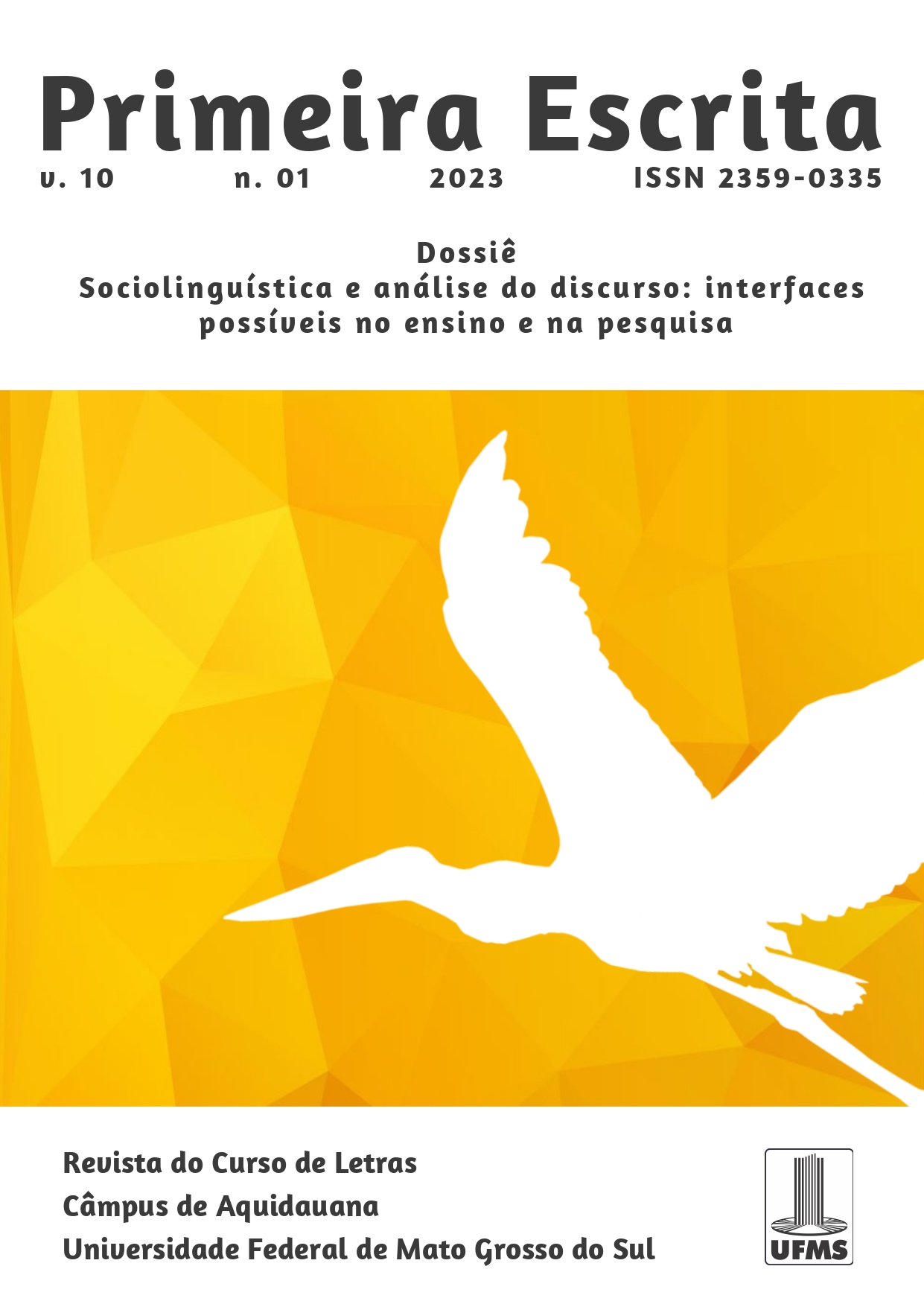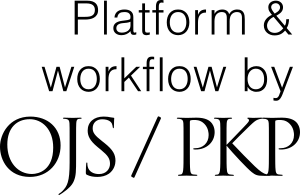“Achei que era só um verbo”:
discussões sobre o uso do vocábulo “achar” em postagens do twitter à luz da teoria sociolinguística e desdobramentos com a decolonialidade
DOI:
https://doi.org/10.55028/rpe.v10in.1.18122Palavras-chave:
Achar. Twitter. Sociolinguística. DecolonialidadeResumo
RESUMO: Esta pesquisa científica tem, por objetivo, analisar os diferentes usos em contexto digital/eletrônico na rede social Twitter para o verbo achar, à luz da Teoria Sociolinguística e desdobramentos decoloniais. Adotamos, como aspecto metodológico, a busca por publicações/posts em que esses usos se inscreviam e, com efeito, convalidamos e tratamos o material selecionado para análise sob os pressupostos teóricos de autores como Fiorin (2013), Tarallo (1985) e Labov (2008). O contexto digital/eletrônico da sociedade moderna está, a todo o momento, constituindo os sujeitos em seus lugares de fala/enunciação e, ao mesmo tempo, corroborando para o enriquecimento, variação, bem como as mudanças linguísticas no âmbito da Língua Portuguesa que se fala no Brasil. Por isso, os estudos que versam sobre as particularidades e peculiaridades das diferentes línguas em contato, em diferentes contextos sociais, políticos e culturais, fazem com que língua e sociedade se constituam mutuamente. Nesses preceitos, alçamos um olhar investigativo sobre uma dessas particularidades que compõem o todo-linguístico, no anseio pela compreensão dessa partícula linguística.
Referências
BAGNO, Marcos Araújo. Sobre peixes e linguagem. In: ANTUNES, Irandé. Análise de textos: fundamentos e práticas. São Paulo: Parábola, 2010, p. 11-12.
BOGDAN, Robert C.; BIKLEN, Sari Knopp. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos. Portugal: Porto, 1994.
BORGES, Maria Célia; DALBERIO, Osvaldo. Aspectos metodológicos e filosóficos que orientam as pesquisas em educação. Revista Ibero-americana de Educación, v. 43, n. 5, jul., 2007. Disponível em: https://rieoei.org/RIE/article/view/2299.
CHAVEIRO, Felício Eguimar. Por que o mundo é possível: a batalha de linguagem nas sociedades mundializadas. Revista Entreletras (Araguaína), v.10, n. 2, jul/dez 2019, p. 333 a 349. Disponível em: https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/entreletras/article/view/7571
20
CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. Petrópolis: Vozes, 2005.
COSERIU, Eugenio. Sincronia, diacronia e história: o problema da mudança linguística. Rio de Janeiro: Presença/Edusp, 1979.
FIGUEROA, Ester. Sociolinguistic metatheory. Pergamon, 1994.
FIORIN, José Luiz. (org.). Linguística? O que é isso? São Paulo: Contexto, 2013.
GUIMARÃES, E. Os limites do sentido: um estudo histórico e enunciativo da linguagem. Campinas: Pontes, 1995.
GUMPERZ, J. John. Introduction to part IV. In: GUMPERZ, J. John; LEVINSON,
C. Stephen (eds.), 1996. p. 359-73.
HOUAISS, Dicionário. In: HOUAISS.UOL, s/d. Disponível em: https://houaiss.uol.com.br/corporativo/apps/uol_www/v6-1/html/index.php#1. Acesso em: 30 jan. 2023.
LABOV, Willian. O estudo da língua em seu contexto social. In: LABOV, Willian. Padrões sociolinguísticos. São Paulo: Parábola, 2008. p. 215-299.
LISPECTOR, Clarice. A legião estrangeira. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.
MIGNOLO, Walter. Desafios decoloniais hoje. Epistemologias do Sul, Foz do Iguaçu, v.1, n. 1, p. 12-32, 2017. Disponível em:
https://revistas.unila.edu.br/epistemologiasdosul/article/download/772/645/2646. Acesso em: 20 ago. 2022.
ORLANDI, Eni de Lourdes Puccinelli. A materialidade do gesto de interpretação e o discurso eletrônico. In: DIAS, Cristiane Pereira Costa. Formas de mobilidade no espaço e-urbano: sentido e materialidade digital. Série e-urbano, v. 2, 2013.
ORLANDI, Eni de Lourdes Puccinelli. Entre letras: o mundo. In: ENTREMEIO – Revista de Estudo do Discurso, 2018, pág. 2019 a 227.
ORLANDI, Eni P. Análise de discurso: princípios e procedimentos. 13. Ed. Campinas, SP: Pontes, 2020.
PETTER, Margarida. Linguagem, língua, linguística. In: FIORIN, José Luiz. (org.). Linguística? O que é isso? São Paulo: Contexto, 2013, p. 11-24.
REIS, Maurício de Morais; ANDRADE, Marcilea Freitas Ferraz de. O pensamento decolonial: análise, desafios e perspectivas. Revista Espaço Acadêmico, n. 202, ano XVII, mar., 2018. ISSN: 1519-6186. Disponível em: https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/41070/21945. Acesso em: 20 ago. 2022.
21
ROSEVICS, Larissa. Do pós-colonial à decolonialidade. In: CARVALHO, Glauber. ROSEVICS, Larissa. (orgs.). Diálogos internacionais: reflexões críticas do mundo contemporâneo. Rio de Janeiro: Perse, 2017.
SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de linguística geral. 19. Ed. São Paulo: Cultrix, 1996. 279 p.
SCHMIDT, Cristiane. Língua: na perspectiva da mudança e da diversidade. Web Revista Sociodialeto, Campo Grande, v. 5, n. 15, mai., p. 360-363, 2015.
SOARES, Magda. Linguagem e escola: uma perspectiva Social. 17. Ed., 2. impr., São Paulo, SP: Ática, 2000. (Série Fundamentos).
TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
a) permitem a reprodução total dos textos, desde que se mencione a fonte.
b) mantêm os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional;
c) autorizam licenciar a obra com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista;
d) responsabilizam-se pelas informações e pesquisas apresentadas nos textos a serem publicados na Revista Primeira Escrita, eximindo a revista de qualquer responsabilidade legal sobre as opiniões, ideias e conceitos emitidos em seus textos;
e) comprometem-se em informar sobre a originalidade do trabalho, garantindo à editora-chefe que a contribuição é original e inédita e que não está em processo de avaliação em outra(s) revista(s), quer seja no formato impresso ou no eletrônico;
f) autorizam à Revista Primeira Escrita efetuar, nos originais, alterações de ordem normativa, ortográfica e gramatical com vistas a manter o padrão normativo da língua e apresentarem o padrão de publicação científica, respeitando, contudo, o estilo dos autores e que os originais não serão devolvidos aos autores;
g) declaram que o artigo não possui conflitos de interesse.