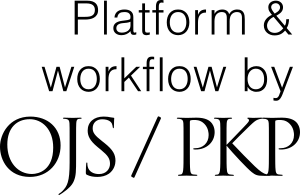A Produção de Conhecimento na Formação de Professores: Uma Condição Indispensável
DOI:
https://doi.org/10.55028/revens.v2i6.12822Palavras-chave:
Formação de professores, Ensino médio, Nova BNCCResumo
Este artigo tem o objetivo de pensar o papel que a nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) propõe para a atuação docente, a saber: o de professor mediador. Analisamos especificamente a orientação da lei nº 13.415/2017 quanto à aplicação de metodologias diversificadas como método de trabalho na sala de aula. A hipótese é de que, mediante o atual retrato da formação de professores, é provável que essa orientação específica possa encontrar dificuldades de ser efetivada de forma satisfatória. Metodologicamente, partimos do estudo de autores de manuais pedagógicos que foram professores do ensino secundário dos anos 1930 a 1960. A pesquisa sobre a trajetória desses professores nos levou ao estudo da história da institucionalização da formação docente, além das legislações educacionais de diferentes períodos. Tudo isso contribuiu para a construção de um retrato da formação docente por meio do Censo do Ensino Superior de 2019, realizado pelo INEP. Assim, concluímos que as marcas da divisão entre os professores que produzem conhecimento e aqueles que os transmitem se mantém na formação docente atualmente. Essa distância das metodologias cientificas pode comprometer o desempenho dos professores em sala de aula, bem como na aplicação de metodologias diversificadas, como orienta a nova BNCC.
Referências
ARAÚJO, A. M. O legado humanístico de um mestre. Revista da academia brasileira de filologia, 2011, nº VIII.
AZEVEDO. I. S. L. A tentativa de lhe oferecer uma página. Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: http://llp.bibliopolis.info/confluencia/pdf/58.pdf. Acesso em 14 mar. 2021.
AZEVEDO FILHO, L. A. Didática Especial de Português (para o curso secundário). Rio de Janeiro: ed. Conquista, 1958.
BARALDI, I.M.; GAERTNER, R. Contribuições da CADES para a Educação (Matemática) Secundária no Brasil: uma descrição da produção bibliográfica. BOLEMA. Boletim de Educação Matemática (UNESP. Rio Claro. Impresso), v. 23, p. 159-183, 2010.
BAZZO. V. L. Os institutos superiores de educação ontem e hoje. Educ. rev. n.23 Curitiba Jan./ Jun. 2004.
BICCAS. M. S. Reforma Francisco Campos: estratégias de formação de professores e modernização da escola mineira (1927-1930). In: MIGUEL, Maria E. B et al. Reformas Educacionais: as manifestações da Escola Nova no Brasil (1920 a 1946). Campinas, SP: Autores Associados; Uberlândia MG: EDUFU, 2011.
BRANCO, E. P. [et al.]. A implantação da base nacional comum curricular no contexto das políticas neoliberais. Curitiba: Appris, 2018.
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2017.
BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Censo da Educação Superior, 2019.
CHARTIER. R. A Ordem dos Livros: leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os séculos XIV e XVIII. 2. ed. Brasília: Ed. UnB, 1998.
FÁVERO, L. L. O ensino no império: 1837-1867 – trinta anos do imperial colégio de Pedro II. In: ORLANDI, E. P., GUIMARÃES. E. (orgs.) Institucionalização dos Estudos da Linguagem: A disciplinarização das ideias linguísticas. Campinas, SP: Pontes, 2002.
FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à pratica educativa. Rio de Janeiro/ São Paulo: Paz e Terra, 2020.
FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro/ São Paulo: Paz e Terra, 2020.
GERALDI, J. W. Portos de Passagem. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2013.
HAMPEJS, Z. Três aspectos da obra de Antenor Nascentes. Revista dos cursos de letras. Curitiba-Brasil, n. 12, 1961.
MEIRA, W. S.; GIARETA, P. F. A Mediação Capitalista sobre o Trabalho e as Implicações para a Educação: aproximações teóricas. Colloquium Humanarum. Presidente Prudente. v. 17, jan/dez. 2020, p. 108 – 118.
NASCENTES, A. O idioma nacional na escola secundária. São Paulo: ed. Melhoramentos, 1935;
NONATO, S. Lições de Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa: práticas didáticas e formação docente. Tese de livre-docência. Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, 2019. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/48/tde-13092019-102606/pt-br.php. Acesso em 15 mar. 2021.
SAVIANI, D. A pedagogia no Brasil: história e teoria. Campinas, SP: Autores Associados, 2012.
SAVIANI, D. História das ideias pedagógicas no Brasil. Campinas, SP: Autores Associados, 2019.
SCHWARCZ, L. M. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil – 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.
SCHWARCZ, L. M. A Longa viagem da biblioteca dos reis: do terremoto de Lisboa à independência do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.
SILVA, V. B. Livros que ensinam a ensinar: um estudo sobre os manuais pedagógicos brasileiros (1930-1971). Curitiba: Appris, 2019.
TANURI, L. M. História da formação de professores. Revista Brasileira de Educação. Mai/Jun/Jul/Ago, n. 14, 2000.
VILLELA, H. O. S. Do artesanato à profissão – Representações sobre a institucionalização da formação docente no século XIX. In: STEPHANOU, M.; BASTOS, M. H. C. (orgs.) Histórias e memórias da educação no Brasil, vol. II: século XIX. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
- Os autores mantém os direitos autorais e concedem à Revista ENSIN@ UFMS o direito de primeira publicação.
- Os autores podem entrar em acordos contratuais adicionais e separados para a distribuição não exclusiva da versão publicada do artigo (por exemplo, em um repositório institucional ou em um livro), seguindo os critérios da licença Creative Commons CC BY–NC–SA e um reconhecimento de sua publicação inicial na Revista Ensin@ UFMS.
- Os autores são permitidos e incentivados a distribuírem livremente os artigos publicados na Revista Ensin@ UFMS em suas páginas pessoais e em repositórios institucionais de divulgação científica, após a publicação, sem qualquer período de embargo.
A Revista ENSIN@ UFMS se reserva o direito de publicar os artigos em seu site ou por meio de cópia xerográfica, com a devida citação da fonte.


_(1)_(1).png)
_(1)1.png)
_(2).png)
.png)
_(1).png)
.jpg)