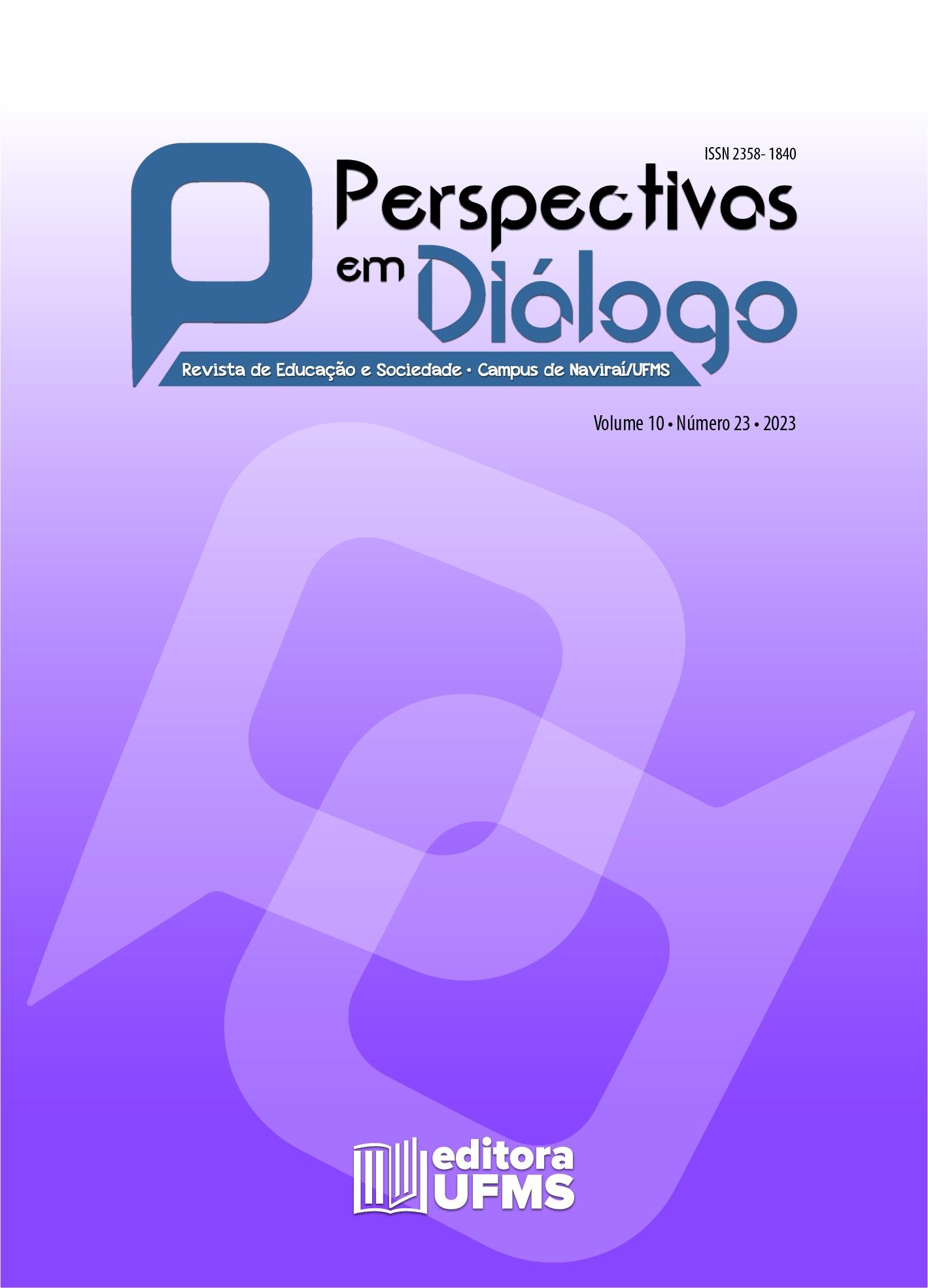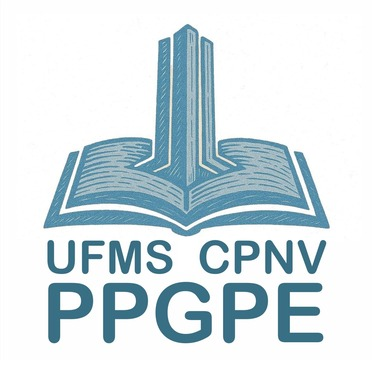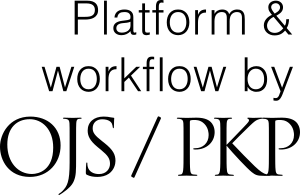Por uma ciência sucessora ecofeminista: uma crítica da dicotomia aparência-realidade subjacente
DOI:
https://doi.org/10.55028/pdres.v10i23.16698Resumo
Neste artigo percorro um caminho pela História da Filosofia que parte do poema de Parmênides e vai até a Revolução Científica dos Séculos XVI e XVII, com o objetivo de expor algumas etapas fundamentais do processo que levou à supervalorização daquelas metodologias de pesquisa científica que Hugh Lacey denominou “estratégias descontextualizadas”. Ao fazer isto, revisito a temática feyerabendiana da crítica à busca ocidental por uma realidade subjacente distinta das aparências, trazendo-a para o contexto da crítica feminista contemporânea da ciência, que tem denunciado as hierarquias de valor e correspondentes formas de dominação ensejadas pelo pensamento dicotómico, aquele que traduz a complexidade do mundo em pares de opostos como razão e sentimento, cultura e natureza, sujeito e objeto, heterossexual e homossexual, homem e mulher ou, no caso de que tratarei aqui, realidade subjacente e aparência sensível. Defendo que a busca por um conhecimento universalizante expresso em leis, com a correspondente desvalorização epistêmica da singularidade irredutível da experiência sensível, se mostrou muito eficaz para o controle e a mercantilização da natureza, mas é incompatível com uma ciência sucessora ecofeminista capaz de regenerar o planeta e proporcionar melhores condições de vida para todas as pessoas e animais que nele habitam.
Downloads
Referências
BARNES, Jonathan. Filósofos Pré₋socráticos, São paulo: Martins Fontes, 2003.
BEAUVOIR, Simone. O segundo sexo, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008.
CARNEIRO, Aparecida Sueli; FISCHMANN, Roseli. A construção do outro como não-ser como fundamento do ser. Tese (Doutorado em Filosofia) Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.
CONWAY, Anne. The principles of the most ancient and modern philosophy, Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
FEYERABEND, Paul. A conquista da abundância, São Leopoldo: Ed. Unisinos, 2006.
FISHER, Mark. Realismo capitalista, São Paulo: Autonomia Literária, 2020.
GUTHRIE, William Keith Chambers. A history of Greek philosophy, Vol. II: The Presocratic Tradition from Parmenides to Democritus, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
HARAWAY, Donna. “Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial”, Cadernos Pagu, Campinas, SP, n. 5, p. 7–41, 2009.
HARDING, Sandra. The Science Question in Feminism, Ithaca: Cornel University Press, 1986.
KRENAK, Ailton. A vida não é útil, São Paulo: Companhia das Letras, 2020.
LACEY, Hugh. Valores e atividade científica, Vol. I, São Paulo: Associação Filosófica Scientiae Studia, 2008.
LEAR, Jonathan. Aristotle: the desire to understand, Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
LOCKE, John. Ensaio sobre o entendimento humano, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999.
NEGRO, Mauricio. Nós: uma antologia de literatura indígena, São Paulo: Companhia das Letras, 2021.
PLATÃO, A República, Trad. J. Guinsburg, São Paulo: Perspectiva, 2018.
SALLES, Eduardo. “Milagre ou qualidade oculta? O estatuto da gravitação universal newtoniana na correspondência entre Leibniz e Clarke”, Cadernos de História e Filosofia da Ciência, 12, ½, Campinas, 2002.
SCHIEBINGER, Londa. O feminismo mudou a ciência? Bauru: EDUSC, 2001.
SHIVA, Vandana. Monoculturas da mente, Rio de Janeiro: Editora Gaia, 2002.
SZCZECINIARZ, Jean-Jacques. Copernic et la révolution copernicienne, Paris: Flammarion, 1998.